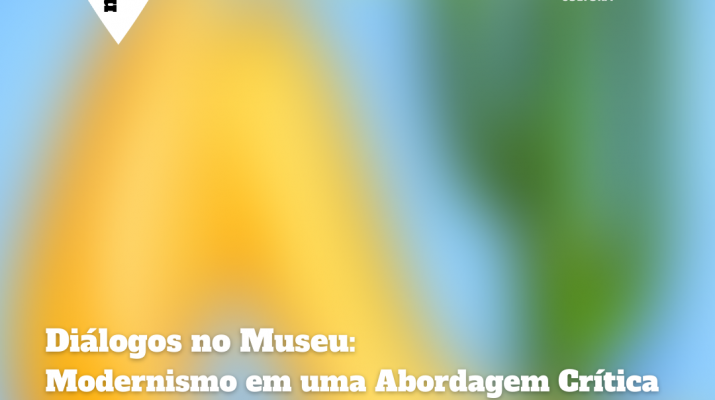Em virtude das efemérides do centenário da “Semana de Arte Moderna” paulistana, muito tem se falado e exposto sobre o movimento e seus expoentes. Não há dúvida, por certo, de que tiveram o mérito de trazer à baila discussões e formas de representação artística para além do academicismo praticado na cidade, ainda mais por esta ser, ainda à época, bem diferente da metrópole efervescente que é hoje.
Entretanto, há questões que possibilitam uma visão mais crítica do movimento. Não se trata, porém, de procurar tisnar a ideia que se tenha sobre ele, mas ensejar provocações ao pensamento, para que jamais se caia no vício de possuir uma visão unânime sobre os fatos. Afinal, como salienta Chimamanda Ngozi Adiche, em seu livro “O Perigo de uma História Única”, “a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos”. Esta incompletude pode, sim, gerar equívocos nas análises, já que a ausência acidental ou proposital de elementos pode direcionar as conclusões para locais totalmente diversos.
Lilia Schwarcz e Heloisa Starling, no livro “Brasil: uma biografia”, revelam que, para os modernistas paulistanos, “o intento era renovar o ambiente artístico e cultural, adotando experiências estéticas de vanguarda que ocorriam na Europa – como o futurismo italiano, o cubismo, o expressionismo – mas fazendo uso de uma régua brasileira”. Deste modo, já que o objetivo era adotar o que ocorria na Europa, mas com elementos da brasilidade, sempre é possível atiçar a mente com a pergunta: tratava-se mesmo de um fazer original ou de uma releitura? Do ponto de vista local, de fato, era uma novidade, mas em uma mirada ampla, dentro do contexto artístico dos países com raízes europeias, também o era?
Superado esse estímulo ao raciocínio, cabe consignar que a “Semana de Arte Moderna” foi um marco para o Modernismo da capital paulista, mas não foi a única expressão do movimento. A vivência dessa nova possibilidade artístico-cultural espraiou-se pelo território brasileiro, tomando outras configurações e características próprias do seu lugar de origem. Como também apontam as autoras de “Brasil: uma biografia”: “modernismo se escreve no plural com ‘s’, e vários projetos paralelos iam tomando forma”. Elas trazem, para embasar esta afirmação, o caso do Rio de Janeiro, ao afirmarem que “as margens sociais do modernismo carioca foram, assim, mais amplas, favorecendo o encontro entre o pobre carioca, o mestiço ou negro, intelectuais e filhos da burguesia”.
No caso de São Paulo, por ouro lado, conforme descrito por Marcos Augusto Gonçalves, em seu livro “1922: a semana que não terminou”: muitos dos participantes do movimento “eram pessoas vinculadas aos extratos mais afortunados e cultos da grande cidade emergente do Brasil daquele momento”, ou seja, eram da elite cultural e econômica. Além disto, eles eram igualmente financiados pela elite, majoritariamente masculina e branca, como lembra o autor ao ressaltar a existência do Automóvel Clube, que “era um ponto de convivência de milionários de São Paulo, entre eles os integrantes do comitê patrocinador da Semana de Arte Moderna. O grupo fora reunido sob a autoridade culta e empreendedora de Paulo Prado, fazendeiro, empresário, escritor, ensaísta e colecionador de arte”. Afinal, mesmo que parte da elite cafeeira cultivasse a estética mais acadêmica, outra vertente encampou a ideia de uma reforma artístico-cultural, pois estava interessada em alavancar São Paulo como uma cidade de vanguarda, contrapondo-se ao poder político e econômico de outros estados, no intento de reivindicá-lo para si.
Portanto, fazer parte da elite permitiu aos modernistas uma difusão sistemática de suas ideias, pelo acesso que sua posição permitia. Ana Paula Cavalcanti Simioni, em seu artigo “Modernismo brasileiro: entre a consagração e a contestação”, aponta que “ao longo da década de 1920, essa visão do modernismo como um movimento de valor nacional e internacional cujo ponto inicial seria a ‘Semana de 22’ foi se constituindo como um dogma, principalmente graças ao espaço que seus membros cultivaram na imprensa da época, tornada uma espécie de arena de propagação dos ideais do grupo”. O problema do dogma é justamente o fato de se cristalizar de uma forma que não admita questionamento, podendo marginalizar quem lhe seja dissidente ou meramente diferente – ainda mais lembrando de que não houve apenas um Modernismo. Em virtude disto, cabe advertir de que todo discurso hegemônico acaba por se tornar exercício de poder, o que pode ter consequências significativas quando se opera diretamente na cultura de um povo. Ademais, se o objetivo era liberar a arte do academicismo, dogmatizar o Modernismo paulistano talvez não seja fazer precisamente o oposto?
Esse poder axiomático do movimento teve uma consequência digna de nota e que se mantém hodiernamente: a formação e sustentação do mito do bandeirante. Isso foi possível porque existe uma diferença considerável entre um fato histórico e a memória que se tenha dele. Pierre Nora, em seu escrito “Entre História e Memória: a problemática dos lugares”, adverte de que, enquanto “a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais”, “a memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações”.
Desse modo, o mito do bandeirante foi constituído por essa característica plástica das memórias, que são terrenos de disputa nos quais o grupo prevalecente imprime sua narrativa. Afinal, a personagem histórica do bandeirante não tinha esse peso previamente, já que não possuía notável relevância social, além de dispor de pouca ou nenhuma educação, ter destruído as reduções jesuíticas – que foram basilares para a colonização –, além de ter aprisionado e matado africanos e também indígenas já convertidos – o que não era permitido pela Coroa portuguesa. Mas as principais bandeiras partiram sobretudo da cidade São Paulo e “o crescimento da economia cafeeira contribuiu para que São Paulo crescesse. A região ganhou a fama de ‘terra do trabalho’, de lugar em progresso. As elites paulistas resolveram difundir uma história idealizada, segundo a qual, as raízes desse progresso já existiam na época dos bandeirantes. Os membros da aristocracia do café seriam os descendentes diretos dos ‘heroicos bandeirantes'” – como narra Túlio Vilela, em seu artigo “Bandeirantes – Heróis ou vilões? A construção do mito”. Aliado ao fato de o “grito do Ipiranga” ter ocorrido em São Paulo, parecia lógico admitir – e perpetuar – o discurso de que esta cidade seria a “locomotiva do Brasil”.
Outra crítica muito pertinente foi feita pelo artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto, em uma live, também para o Programa Diálogos no Museu (https://youtu.be/aRSl38Ow0xM). Diz ele que “a ideia de arte brasileira foi desenvolvida também através de um sistema que eu chamo de ‘grilagem cultural’. A Naine Terena também tem um adjetivo para esse tipo de situação que é ‘sequestro cultural’. (…) Eu acho interessante pensar que as mesmas pessoas que aplaudiram de terem tacado fogo na escultura do Borba Gato não aceitam discutir também as questões relacionadas à obra de Tarsila do Amaral, de Oswald de Andrade, e foram pessoas que desenvolveram todo o seu trabalho artístico através de ‘grilagem cultural’, através do sequestro de culturas indígenas, onde esses povos indígenas não foram convidados para essa festa: eles não foram convidados para participar desse processo. (…) Quando falo de ‘grilagem cultural’, também, tanto a obra da Tarsila, quanto as obras do Oswald, são documentos que determinam a ideia de tomada de território, de pertencimento do território, assim como os documentos dos grileiros, que eram forjados para tomar os territórios dos indígenas, dos povos originários”.
Como última provocação, pode-se ainda levantar uma questão que deve ser analisada posteriormente, com mais detença. Em seu artigo para a revista Super Interessante, intitulado “Modernistas de 22 Exaltaram Bandeirantes”, Alexandre Carvalho afirma que “exaltar assassinos de índios e negros” – referindo-se aos bandeirantes – “não é o único esqueleto no armário dos modernistas de 22. A inspiração de substituir a arte do passado, de temas bucólicos, por outra, que versava sobre velocidade e tecnologia, vinha em grande parte de Filippo Tommaso Marinetti, líder do movimento futurista”. O problema disto é que, conforme continua o autor, “Marinetti, que glorificava a guerra como ‘única higiene do mundo’, foi um militante apaixonado do fascismo e chegou a afirmar que essa ideologia representava uma extensão natural do pensamento futurista”.
Isso posto, deve-se concluir que o Modernismo precise ser execrado? De forma alguma. O próprio Andrey Guaianá Zignnatto, no mesmo vídeo, afirma: “eu entendo que, na época, o pensamento era outro, que as questões eram outras, que a cosmovisão da sociedade era outra coisa, mas eu acho que hoje se faz necessário repensar todas essas questões também”. O convite, então, é esse: repensar. Desse modo, os indivíduos podem se apropriar do passado com mais conhecimento e experiência, de forma a resolver os conflitos e construir um presente – e um futuro – melhor para todos.
Para também fazerem suas análises críticas, o Museu da Cidade de São Paulo, por intermédio do seu Programa Diálogos no Museu, traz a Doutora Julie Dorrico, cujas pesquisas têm ênfase na Literatura Indígena Contemporânea, e a Pós-Doutora e Curadora Fernanda Pitta, cujas pesquisas dão ênfase à História da Arte no Brasil e Historiografia da Arte.
Danilo Montingelli
Coordenador Geral
Programa Diálogos no Museu
Museu da Cidade de São Paulo
Data: 09/04/2022
Horário: 11h
Duração: até 120 minutos
Link para acesso: https://youtu.be/yiHU6khSyn0
Acessível em libras
A arte utiliza imagem da obra “Abaporu”, de Tarsila do Amaral, retirada da Wikipédia.